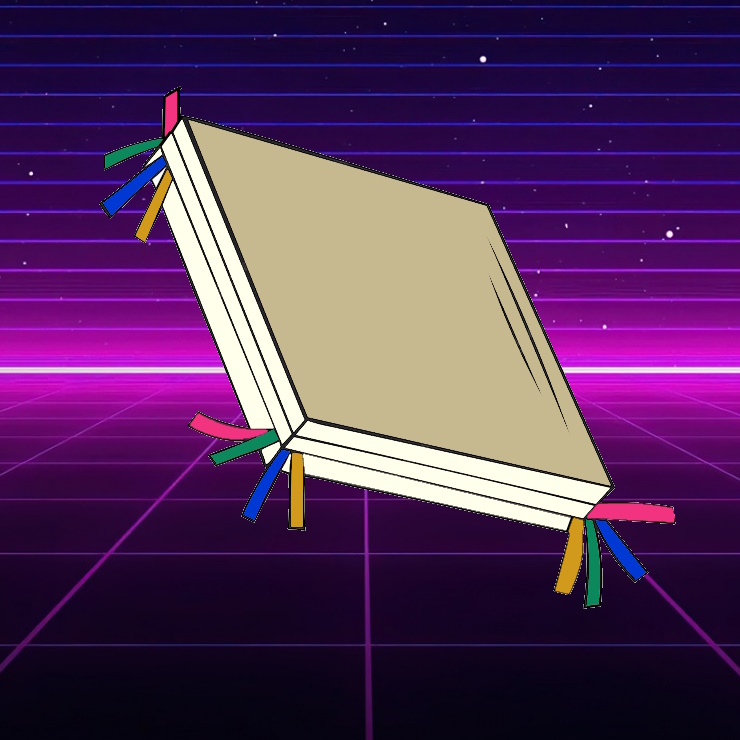Quando foi a primeira vez que ouviram Conjunto Corona? Eu lembro-me perfeitamente. Estava no carro do meu amigo Edgar Simões, na Covilhã. Na altura, a nossa banda ainda estava ativa, e estávamos a transportar os instrumentos para um concerto que íamos dar na Semana Académica. Estávamos a ouvir a Antena 3, a rádio favorita do Edgar, mais precisamente a Prova Oral, o programa favorito do Edgar. O Fernando Alvim estava a entrevistar o José Cid e decidiu mostrar-lhe uma música: “Chino no Olho”.
A situação surreal — com o músico natural da Chamusca a ouvir o verso “José Cid — quê, quê? Chino no olho” repetidas várias vezes — fez-nos rir descontroladamente, mas também foi algo que me marcou (ao ponto de estar aqui a contar este momento da forma mais pormenorizada possível).
Na altura, em 2017, ainda torcia o nariz a qualquer estilo de música que não incluísse uma guitarra distorcida. A música do duo do Porto, formado pelo produtor David Bruno (dB), o rapper Edgar Correia (Logos) — que conta também com o hype man Homem do Robe — ajudou-me a fazer a ponte e a aprender a gostar de todo o universo sonoro que existe dentro do hip-hop e do rap cantado em português.
O que separa os Corona de tantos outros artistas e grupos é a honestidade. Nada me irrita mais do que músicos que tentam fazer-se passar por algo que não são. Canções onde o intérprete tenta fazer-se passar por um “gandim”, cheio de dinheiro e com a vida sexual do Wilt Chamberlain, para mim, tem muito pouco interesse.
Em Corona, tudo é real. As pessoas e ambientes que Logos descreve nas canções do grupo são palpáveis e a banda sonora conferida por dB intensifica tanto esta sensação que quase sentimos o cheiro das substâncias que as personagens das músicas estão a fumar.
Isto explica a diferença entre o carinho que sentimos por certos artistas e porque tantos outros acabam por ser esquecidos. Queremos ouvir música sobre coisas reais. Estamos fartos de ver pessoas a seguir temas e estéticas já trilhadas pelos seus antecessores.
Este ano, 2024, o Conjunto Corona celebrou o décimo aniversário da sua formação com dois concertos especiais, em Lisboa e no Porto: 26 de outubro, no Lisboa ao Vivo, e 31 de outubro, no Hard Club. Ao longo de uma década, passaram de um fenómeno de culto para um nome que ajudou a transformar a música portuguesa e a apaixonar os seus ouvintes.
“A primeira vez que ouvi Corona foi durante o processo de composição e gravação do primeiro disco, Lo-Fi Hipster Sheat, onde tenho um verso num dos temas: ‘Volta No Meu Chapéu’”, recorda Mike El Nite, que mais tarde voltou a participar no terceiro disco do coletivo, Cimo De Vila Velvet Cantina, na música “Meio Crocodilo”. Mais tarde, o rapper de Telheiras tornou-se um colaborador frequente de David Bruno, participando no seu projeto a solo (na canção “Interveniente Acidental”) e formando o duo David & Miguel. “Trabalhar com eles é fácil e descontraído. Dou-me muito bem com os integrantes e os adjacentes do grupo até hoje.”
“Conheci Corona quando atuaram no Milhões de Festa”, conta Marco Duarte, o guitarrista que acompanha dB em palco no seu projeto a solo e que também já emprestou os seus dotes de instrumentista ao grupo. “Fiquei imediatamente muito curioso. Lembro-me perfeitamente de ter ficado a cantarolar lo-fi hipster sheat a noite inteira depois do concerto. Felizmente, tive a oportunidade, em 2017, de tocar com Leviatã antes deles no gnration open day e conheci-os pessoalmente. Receberam-me com muita simpatia, e foi um momento maravilhoso.”
“Lembro-me de ouvir falar do David por causa da colaboração com o PZ”, reflete João Não, referindo-se à parceria que resultou em “Cara de Chewbacca”. “Isso fez com que ouvisse o primeiro álbum dos Corona na altura em que saiu [em 2014]. Eu tinha 15 anos, queria pertencer à cena de hip-hop e achei logo muita piada porque notava que, apesar do humor, havia ali muito talento. Acompanhei vários concertos deles – até já perdi a conta – e é muito bonito poder parar e pensar no facto de me ter aproximado deles ao ponto de estabelecer amizade e poder participar nos seus projetos. Foi um prazer enorme ter colaborado no álbum do David Bruno [Paradise Village, na faixa “Jorge Micael”], e espero que possamos continuar a colaborar no futuro.”
Reuni-me com o Conjunto Corona, através de uma videochamada no WhatsApp (invadida pelos companheiros felinos dos respetivos membros desta chamada), para falar sobre o percurso que conduziu Logos e dB até aos dias de hoje.
“Ensaios?”
Os primórdios de Corona remontam a 2014. Edgar tinha acabado de lançar um trabalho com Minus, Passeio (o duo assinava com o nome Ollgoody’s). Este álbum foi editado em cassete pela Biruta Records, algo que interessava a David Bruno (em 2016, a Biruta Records editou o álbum 4400 OG do produtor). dB tinha acabado de editar Black Cobra, o seu primeiro disco, totalmente instrumental e inspirado nos sons de Bollywood. dB entrou em contacto com Logos para perguntar como poderia lançar a sua música neste formato físico e ficou surpreendido ao descobrir que existia uma fábrica de cassetes, uma das últimas de Portugal, em Águas Santas, terra onde o rapper morava.
Conversa puxa conversa, e os músicos foram criando uma ligação cada vez mais forte. Saíam à noite juntos, pelas Galerias de Paris ou pelo Portinho, e, entre shots de hidromel, falava-se sobre música. “Percebemos que tínhamos muito em comum”, diz Edgar. “Daí até surgir a conversa de fazermos qualquer coisa juntos, não demorou muito tempo”, recorda.
Primeiro, surgiu um beat do David que serviu para adornar uma música que Edgar já tinha escrito. O produtor convidou o rapper para ir até sua casa e dar vida a algumas ideias. Inspirado por Kilas, O Mau da Fita (1980), a ideia era criar uma personagem baseada no filme e na “malandragem” do Porto, compondo várias canções que representassem a realidade desta zona de Portugal.
Com isto em mente, Logos ficou com várias ideias e começou a explorar a biblioteca de beats criados pelo seu camarada. Muitos beats depois, dB decidiu mostrar-lhe uma cassete com uns instrumentais que considerava um pouco “fora da caixa”. Com samples de rock psicadélico, o rapper deixou de lado todos os planos que tinha. O futuro estava ali.
“Quando ouvi esses beats, a primeira coisa que reparei foi que tinham a vibe de um filme. Faziam-me viajar”, descreve Edgar. “Sempre gostei de fazer música assim, como uma peça de teatro ou um pequeno filme. Os beats do David, desde o início, sempre me remeteram para essa ideia. Por isso, não me limitava só a escrever um rap. Permitia-me contar uma história.”
Mais do que ter a oportunidade de explorar uma narrativa, a junção entre dB e Logo permitiu que os dois artistas se diferenciassem da concorrência e criassem algo novo e inovador. “Estava toda a gente a rimar nas mesmas cenas e sobre as mesmas coisas. Ninguém estava a usar este tipo de som. Nunca tinha ouvido nada assim”, confessa Edgar.
Eis que surge Corona, o personagem titular dos vários discos do Conjunto e que, em cada lançamento, vive uma “aventura” diferente.
Depois desta epifania, Edgar foi para casa, escreveu novas canções e, pouco tempo depois, Lo-Fi Hipster Sheat (2014), o primeiro álbum do grupo, acabaria por nascer de forma natural.
Quando questiono os músicos sobre se se lembravam dos primeiros ensaios, a sua reação diz muito sobre como as canções foram criadas: “Ensaios?”. Depois de um breve silêncio, questionam: “O que queres dizer com isso?”
O processo de criação do duo sempre foi natural e fluido, mas que isto não se confunda com desleixo ou despreocupação. “Passávamos horas a analisar a forma de como cantar e interpretar cada letra. Depois, alterávamos o pitch de cada gravação até encontrarmos o som que melhor encaixava com cada personagem e com o seu estado de espírito”, explica Logos. “Não é só escrever as barras. Ainda hoje, esta é uma das partes mais importantes do processo.”
Depois de lançarem o primeiro disco, as reações foram mistas. Fãs de um hip-hop mais tradicional, nomeadamente da zona do Porto, estranharam o que os Corona estavam a tentar fazer e, numa fase inicial, rejeitaram-nos. No entanto, quando apresentavam o álbum ao vivo, perceberam que iam encontrando caras familiares em vários espetáculos. Estavam a tornar-se um fenómeno de culto.

Para o duo, ambas as reações do público foram inesperadas. “Não estávamos à espera de nada”, refere David. “Nunca tivemos grandes expectativas em relação a nada. Tínhamos noção de que estávamos num campo mais experimental. Foi uma grande surpresa quando percebemos que as pessoas estavam a partilhar e a ouvir a nossa música.”
Entre as pessoas que estavam interessadas na música do Corona estava PZ, que convidou o grupo para entrar na sua editora, Meifumado. “Termos uma pessoa como o PZ e uma editora interessada no nosso trabalho era uma novidade para nós. Devíamos estar a criar alguma coisa de interessante”, reflete Logos.
A Epopeia de Corona
Um ano depois do lançamento de Lo-Fi Hipster Sheat, com mais experiência em palco para requintarem a sua arte, chegamos ao segundo capítulo da história de Corona: Lo-Fi Hipster Trip (2015). É um álbum mais sombrio e com sonoridades mais pesadas face ao seu predecessor, que pretendia refletir o duro programa de reabilitação pelo qual passava o personagem principal das canções, Corona.
Com músicas como “Pacotes”, que abordava a dependência de estupefacientes, ou “Pontapé nas Costas”, sobre a gentrificação do Porto e a invasão de turistas na cidade, o duo traçou o retrato mais intenso da sua discografia. Foi também neste trabalho que os músicos aprimoraram a criação de narrativas ao longo dos discos, algo que se tornou um pilar na sua obra.
“Há sempre uma história por detrás de todos os álbuns. É assim que tudo começa. Os primeiros álbuns podiam ser mais inocentes, mas isso nunca mais vai acontecer. Estamos cada vez mais preocupados com o nível de detalhes da narrativa. Esse é o maior desafio: como vamos contar uma história nova e sólida?”, descreve David.
Em Cimo de Vila Velvet Cantina (2016), Corona estava reabilitado, mas de volta à má vida. Este álbum aborda o estabelecimento de alterne que o personagem abriu no topo da Rua de Cimo de Vila, uma das mais antigas da cidade do Porto. Neste trabalho, encontramos uma das músicas mais populares do grupo, “Chino no Olho”, mas também faixas subvalorizadas como “Bangla” — com Kron Silva a encarnar o espírito dos Mão Morta, declamando intensos versos sobre como a cidade destroi o espírito das pessoas — e “Mafiando Bairro Adentro”, um tributo aos muitos bairros da região do Grande Porto.
Dois anos depois, o duo chegou ao seu disco mais eufórico e energético, Santa Rita Lifestyle (2018). Neste novo capítulo da vida de Corona, a personagem inicia o seu próprio culto, em torno do “enclave místico” de Águas Santas, Ermesinde, Valongo e Baguim do Monte, onde se celebra a cultura da estação de serviços, com pessoas que se juntam nestes espaços para conviver e fazem as rotundas como se fossem o Dom Toretto.
Se “Chino no Olho” era um daqueles hinos que todos cantavam em uníssono nos concertos, na quarta incursão discográfica do grupo esse espírito apresenta-se em esteroides, com faixas como “187 no Bloco”, “Perdido na Variante” (com PZ) ou a faixa homónima.
De onde surgiu a confiança para fazer um álbum com tantos hinos? “Às vezes, é mais uma questão pessoal e não tanto da fase em que estamos na nossa carreira. Nessa altura, o David mudou de trabalho e eu também estava numa fase melhor depois de ter estado a viver em Viseu e Lisboa”, explica Edgar. “Foi uma altura em que estávamos em altas. Os nossos discos também refletem o nosso estado de espírito. Por exemplo, no Lo-Fi Hipster Trip estava a passar por uma fase difícil a nível pessoal, com dificuldade em manter-me. O meu estado de espírito mais pesado transpareceu na música.”
No espaço de três anos, depois de levar Santa Rita Lifestyle de norte a sul do país e de vivermos durante uma pandemia. dB e Logos sentiam que precisavam de um desafio. O álbum de “Eu Não Bebo Cola Cola Eu Snifo” ou “Street Ganza do Jardim” foi “fácil”. A fórmula de criação de canções não podia estar mais perfeita e os fãs receberam o disco de braços abertos e com grande euforia e amor. Os concertos de Corona estavam cada vez mais cheios, com mais pessoas a aderirem ao mosh e o Homem do Robe não tinha mãos a medir para servir hidromel a tantos fãs. Estava na hora de fazer algo completamente diferente.
Uma das experiências que mais divide os fãs de Corona é G de Gandim (2021), o álbum de reggaeton do duo. A sonoridade foi adotada para contar histórias relacionadas com a noite do Porto, nomeadamente sobre as discotecas que se situavam nas zonas industriais.
Este álbum foi lançado durante a pandemia, o que impediu que fosse apresentado tantas vezes quanto o habitual em palco. Atualmente, as canções deste disco quase não figuram nos espetáculos do grupo. No concerto de celebração no LAV, apenas ouvimos “Mãe Birei Gandim”. Mas será que os Corona se arrependem de terem feito G de Gandim? Rapidamente, descartam essa ideia.
“Só não é tocado mais vezes ao vivo porque temos de usar muito autotune”, explica dB. “Quando tocávamos várias músicas deste disco, era viável, mas, como agora revisitamos várias partes da nossa carreira, isso implica uma logística complicada.” “Este é um álbum do qual tenho muito orgulho. Arriscamos bastante. Já tínhamos quatro álbuns com uma estética definida, mas decidimos surpreender e arriscar”, confessa Logos.
Em 2023, o duo lançou o seu trabalho mais recente, ESTILVS MISTICVS. É um disco baseado na cultura do misticismo do Norte, assente em temas como a morte e o bruxedo. O imaginário do funeral (nos concertos de apresentação deste álbum, apresentavam-se com caixões em palco) e o facto de estarem agora a realizar concertos para celebrar dez anos de carreira fez com que vários fãs ligassem estes sinais a um possível fim do grupo. Contudo, mais uma vez, esta hipótese foi afastada.
“Podem ter ficado com essa ideia porque colocamos a data dos nossos ‘supostos’ funerais na capa. Mas isso servia apenas para a história do disco. Por enquanto, o nosso objetivo é chegar aos sete discos. Tens muitos grupos de hip-hop icónicos que nunca passaram essa marca”, revela Edgar.
Do Porto para o mundo: o legado de Corona
Enquanto alguém que não cresceu nem no Porto nem em Lisboa, a música de David Bruno e Edgar Correia foi importante para me ajudar a perceber o que é ter orgulho do sítio de onde vim e a partilhar histórias (boas e más) sobre o local onde cresci.
Numa altura em que a grande maioria dos artistas portugueses voltou a cantar em português e se voltou para os regionalismos tanto nos instrumentais como nas letras, é inegável o papel que os Corona tiveram neste movimento da música portuguesa, assim como no desenvolvimento do hip-hop portuense, de João Não ao psicadelismo de ensemblu. E não estou sozinho nessa opinião.
“Primeiramente, vi os Corona num contexto de hip-hop e adorei a abordagem”, começa por explicar Mike El Nite. “A desconstrução da ideia de ‘ser real’ falou comigo a um nível muito íntimo, assim como a atitude stoner e irónica do projeto, sem descurar a qualidade sonora e a fidelidade ao processo clássico do sampling do rap mais ortodoxo”.
O autor de O Justiceiro (2016) recorda ter assistido a um concerto deles no Musicbox, quando estavam a apresentar Lo-Fi Hipster Trip, e de reparar que o público era composto por diferentes tribos urbanas: malta do indie, do metal e pessoas que normalmente não estariam em concertos de hip-hop. Isto foi algo que o inspirou.
“Este apagar de fronteiras e esbater de linhas agradou-me muito, porque também pauta o meu trabalho. Desde cedo percebi que eu, o David, o Edgar e o Homem do Robe, entre outros membros e participantes, estávamos e estamos no mesmo comprimento de onda, o que sempre facilitou as nossas interações. Ajudaram a criar um safe space para quem gosta da estética, independentemente dos códigos comportamentais da cultura”, argumenta.
“Eles tiveram um forte impacto na música feita no Norte, que, consequentemente, se tornou nacional. No entanto, nunca esqueceram a importância de contarem a realidade que se vive no Norte e que carregam com muito orgulho”, descreve Marco Duarte. “Sinto que há uma honestidade não só nos beats como também nas letras, que são muito criativas e sempre corajosas. Como eles dizem: ‘Quem não bate o pé não sabe como é que é’”, assinala o guitarrista
“Como projeto de hip-hop, acho que tem um valor enorme porque fazem-no de uma forma clássica, mas ao mesmo tempo com uma visão moderna e criativa. Na música portuguesa em geral, todo o imaginário à volta dos projetos dos Corona e de cada um dos seus integrantes já tem um peso cultural inegável, e são muito importantes para a pluralidade que tanto precisamos e devemos cultivar”, descreve João Não.
O jornalista musical Ricardo Farinha, autor do livro Hip Hop Tuga — Quatro Décadas de Rap em Portugal, explica-nos a importância que o duo teve para abrir portas a diversos artistas nacionais.

“Sem Corona e David Bruno, certamente não teríamos, por exemplo, um Mike El Nite tão virado para a música popular e romântica portuguesa e para o universo pimba. Não é que ele não tivesse já uma ligação à portugalidade na sua música, até por ser filho do Quinzinho de Portugal, mas tenho a certeza de que não teria acontecido da mesma forma nem de maneira tão intensa”, reflete, referindo ainda um exemplo que, apesar de se encontrar afastado de Gaia, é bem eficaz.
“Lembro-me de falar com os Unidigrazz, um coletivo multidisciplinar da Linha de Sintra, que retrata muito uma cultura urbana marginalizada e a coloca num lugar nobre, dando novos significados aos seus códigos culturais, e de eles estabelecerem paralelismos entre o que faziam e o imaginário do David Bruno”, refere. “Ter orgulho nas suas raízes e naquilo que muitas vezes é visto como foleiro e não é valorizado também pode ser um património cultural kitsch que estava a ser descurado”.
O jornalista argumenta que, apesar de David Bruno fazer isto mais através da sátira do que de um lugar social de marginalidade, não deixa de haver pontos em comum entre estas duas realidades. O mesmo acontece com a música dos Corona, “com todas as referências que têm ao Porto, Gaia e aos seus subúrbios, aos regionalismos, às histórias que refletem uma cultura local rica que não costuma aparecer retratada na arte”.
“Essa parece-me ser a essência real de todo este imaginário e o contributo que deram à cultura portuguesa no geral – a maneira como nos vemos a nós próprios diz muito sobre nós e está entrelaçada com a nossa identidade cultural”, refere.
Ricardo elogia ainda a forma como o grupo conseguiu construir “um imaginário e um universo tão próprios, tão repletos de camadas edificadas ao longo de uma década, que são um exemplo de como fazer um projeto coeso, narrativamente complexo e conceptual, com uma fanbase dedicada, sempre com novos laivos criativos e de ruptura, que se refletem nas músicas, nas performances ou, por exemplo, nas edições físicas”.
E como olham os Corona para a sua influência e legado? Com grande distância.
“Ficamos contentes por ver que existem artistas que olham para a música da mesma forma que nós, mas não fomos nós que inventámos a fórmula de escrever sobre a nossa própria terra”, afirma David, referindo, por exemplo, a discografia de PZ, que já fazia referências a essas regionalidades ainda antes de Lo-Fi Hipster Sheat.
No entanto, o duo não deixa de notar que alguma desta “regionalização” surge de motivações financeiras. “Gosto quando as pessoas falam de sítios dos quais têm propriedade. Por exemplo, quando o João Não fala de Gondomar, ele está a falar de um sítio que conhece e de pessoas que conhece, assim como as histórias que o Homem do Robe conta nas suas músicas. No entanto, existem pessoas a aproveitarem-se de uma portugalidade que não é delas. Por exemplo, a Cláudia Pascoal é de São Pedro da Cova, em Gondomar, mas andou a dizer que era minhota para promover as suas músicas, onde se inspira no vira. Isto é como dizeres que és do Porto quando vives na Trofa. A Trofa não é o Porto”, acusa o produtor.
David nota, entre risos, a existência de um novo fenómeno inverso. Antigamente, as pessoas tinham vergonha de dizer de onde vinham, agora até mentem para dizer que vêm de um sítio que nem é o deles.
“Há quem se esteja a aproveitar de tudo por uma questão de estética e de moda. É isto que eu acho que o Corona e David Bruno fazem. São projetos que vieram apresentar uma forma diferente de mostrar esta portugalidade. Sem filtros, nem complementos. Queremos apenas mostrar o sítio de onde somos e como eles são realmente complexos”.