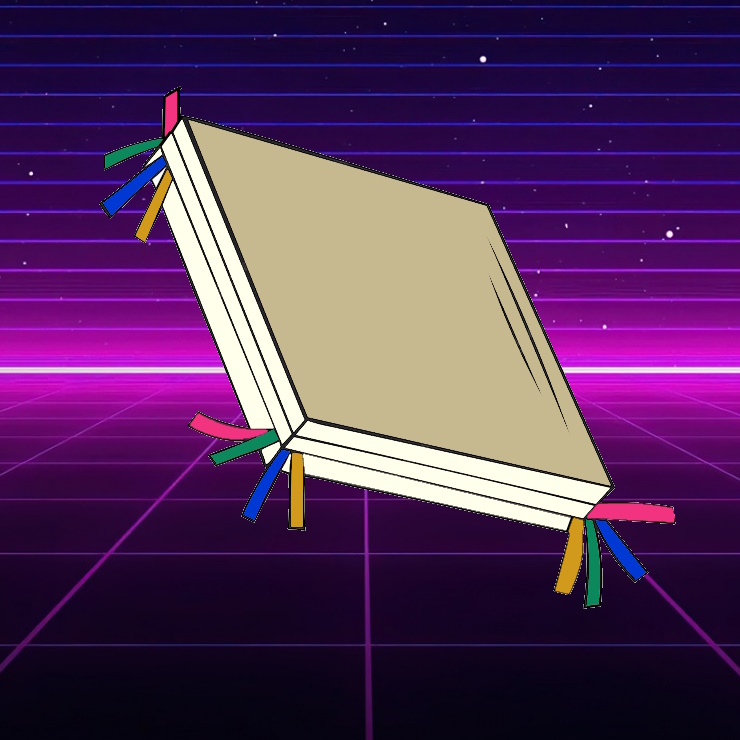“Uau, 21 milhões!”
Corria o final de julho, em 2012, quando recebi esta mensagem de um amigo meu. No escritório da Música no Coração, a aproximação do MEO Sudoeste obrigava a um esforço final de superação e eu estava afogada em trabalho. No início desse mês, o SBSR tinha sido um fracasso total de vendas, mas o verão ainda não acabara e o sudoeste alentejano mantinha-se como farol da sobrevivência da promotora durante o resto do ano. Com a perda dos Radiohead para o Alive, o SBSR não conseguiu o cabeça de cartaz forte que precisava para segurar o resto da programação (que incluiu, por exemplo, a estreia de Lana Del Rey em solo nacional), acabando por dar prejuízo. Assim, a peregrinação anual à Zambujeira do Mar era a única salvação e era preparada ainda com maior afinco.
O verão de 2012 foi atípico para os festivais. A competição anual pelos melhores cartazes acentuara-se com a chegada dos Jogos Olímpicos a Londres, que praticamente cortou por metade as habituais doze semanas do circuito europeu, obrigando a pausar uma série de festivais, incluindo gigantes como o Glastonbury ou o Oxegen. Mas em Portugal, pese o arranque do Primavera Sound no Porto, o cenário era mais grave. Nos doze meses anteriores, o governo de coligação liderado por Pedro Passos Coelho implementara uma série de medidas de austeridade que agravaram consideravelmente as condições de vida da população. Perante uma crise financeira que depauperou ainda mais os bolsos de um público que já não tinha grande folga, subir o preço de bilhetes de festivais estava fora de questão. Na Rua Viriato, apesar de um 2011 simpático (SBSR lotado e SW bem composto), o investimento mantinha-se cauteloso. Ainda a recuperar da cisão entre Álvaro Covões e Luís Montez (cerca de cinco anos antes), o equilíbrio financeiro da MnC era delicado. De repente, caiu a bomba no escritório: “o pavilhão é nosso!”, ouvi a minha chefe gritar do gabinete, pouco tempo depois de abrir a ligação que confirmava a notícia.
O ambiente era de festa. Celebrei, pois claro, apesar de um sentimento crescente de confusão. 2012 estava a ser duro. O desastre do Meco às moscas era quase o culminar de um ano péssimo para a empresa, com um desgaste tremendo na equipa. Pelo caminho, tínhamos deixado cair dois festivais fruto da pressão da perda de patrocínios (o Sagres Surf Fest, organizado desde 2006, e o Delta Tejo, que concluiu o seu reinado no Alto da Ajuda ao fim de cinco edições). Durante o ano, por mais do que uma vez tinha havido salários em atraso na promotora, mas ali estávamos todas de copo na mão a celebrar os 21 milhões que colocavam a maior sala de espetáculos do país parcialmente nas mãos do patrão.
A onze anos de distância, é quase estranho pensar que o Pavilhão Atlântico foi comprado ao Estado.
Na minha ingenuidade, não só me parecia algo bom, como quase justo. Afinal, Álvaro Covões, dono da concorrente direta EiN, detinha o Coliseu dos Recreios por herança. Com a participação de Montez no consórcio, o Pavilhão Atlântico passava a estar, de certa forma, do lado da MnC, e isso parecia-me uma forma de equilibrar essa vantagem.
A onze anos de distância, é quase estranho pensar que o Pavilhão Atlântico foi comprado ao Estado. Da REN aos CTT, a coligação Portugal à Frente (PAF) vendeu empresas e infraestruturas e públicas ao desbarato; o Pavilhão era só mais uma entre tantas. No meio de uma crise que incluiu pensões e salários cortados, direitos laborais esquartejados e desemprego galopante, perder um salão de festas glorificado onde cabem 20 mil pessoas para um grupo privado realmente parece um tema de baixa prioridade, ainda que o Estado tenha encaixado menos de metade do que o que pagou pela sua construção (cerca de 55 milhões de euros). Para sermos francos, poucos em Portugal teriam a experiência que Luís Montez e a Ritmos&Blues (promotora que entrou no consórcio Arena Atlântida, que conseguiu o espaço) tinham na organização de eventos musicais de larga escala que manter a sala exigia. Antes estes do que a mundial AEG, já que conhecem e compreendem o mercado português. Enfim: do mal o menos.
A pechincha incluía, também, a empresa de bilheteira Blueticket, o que fez com que a Autoridade da Concorrência (AdC) obrigasse Montez a vender a sua participação na Ticketline (a concorrente). Além disso, a AdC exigiu que fossem criados mecanismos que garantissem ”o acesso dos promotores musicais concorrentes da Música no Coração e da Ritmos & Blues à utilização do Pavilhão Atlântico, em condições objectivas, transparentes e não discriminatórias”, e o negócio lá se deu.
Em maio de 2013, chegou a primeira aragem com cheirinho a privatização: o Pavilhão Atlântico passou a chamar-se MEO Arena, fruto de um contrato cujo valor não foi revelado para a aquisição dos “naming rights”, que é um conceito muito giro que, alegadamente, dá a uma empresa o direito de nomear certa coisa se pagar muito dinheiro por isso. O Pavilhão da Utopia, que encantou milhões na Expo 98, tornava-se, assim, o símbolo maior da mercantilização cultural do nosso país.
As notícias recentes da aquisição de uma posição maioritária na Ritmos&Blues e na Arena Atlântida, por parte da gigante Live Nation Entertainment (LNE), não foram particularmente surpreendentes. Há vários anos que se especulava uma entrada mais séria da gigante do entretenimento ao vivo em Portugal – a LNE controla a franquia Rock In Rio desde 2019. Na verdade, em 2012, esteve em cima da mesa a possibilidade de a LNE fazer parte do consórcio vencedor, mas a coisa não avançou, apesar da Ritmos&Blues ter um acordo para ser a promotora dos espectáculos da LNE em Portugal.
Não se sabe ao certo quanto é que a LNE bancou pelo negócio (cujo processo ainda está aberto na AdC), nem o que fez com que mudasse ideias onze anos depois. No entanto, é fácil especular que o mercado português é hoje mais rentável e apetecível do que em 2012. Apesar da crise da habitação e do progressivo desinvestimento em políticas e infraestruturas públicas (SNS, I love you but you’re bringing me down), Portugal continua a abrir os bolsos para trazer nómadas digitais e a vender-se como grande Meca do turismo. E tem resultado, ainda que à custa dos locais. Quando falamos de MEGA concertos, o cenário é claro: há público pronto para largar a nota. As recentes passagens de Coldplay ou The Weeknd por cá comprovam-no. Mas o reforço da posição da LNE em Portugal levanta questões que vão bem para lá de quem marca os concertos deste tipo de artistas, a começar pelos bilhetes.
Se acham que os bilhetes de mega concertos são caros, ainda não viram nada.
Sim, a aquisição da Arena Atlântida garante o controlo da Blueticket, que passará a ser irmã da Ticketmaster. Se acham que os bilhetes de mega concertos são caros, ainda não viram nada. A Ticketmaster tem encaixado muitos milhões de dólares com a venda de bilhetes com sistemas dinâmicos de preço: quanto maior for a procura para a oferta, maior o preço de venda. Nas digressões mais recentes de Bruce Springsteen e blink-182, os bilhetes escalaram rapidamente até às centenas e, nalguns casos, milhares de dólares, mas isso é a ponta do icebergue. As infrações da Ticketmaster são muitas e variadas, desde enganar os consumidores (ocultando taxas e prevenindo que leiam termos & condições de venda) até trabalhar diretamente com especuladores do mercado em segunda-mão, passando por distribuir bilhetes falsos para concertos, e muitas outras práticas abusivas. Acontece que a Ticketmaster detém o monopólio da bilheteira no circuito norte-americano, o que faz com que, geralmente, os artistas não tenham outra opção senão a de usar os seus serviços. Nos últimos 28 anos, foram vários os artistas que processaram a empresa, dos Pearl Jam (em 1994) ao Drake (em 2023). A polémica mais badalada dos últimos tempos foi a venda de bilhetes para digressão The Eras de Taylor Swift, que culminou com uma audiência no Senado norte-americano centrada na fusão da LN com a Ticketmaster e respetivas consequências.
Vivendo num sistema capitalista, não há como escapar à mercantilização (de pelo menos parte) da cultura. Sem surpresa, os grandes fenómenos pop são aqueles que estão mais expostos ao poder da mão invisível, mas o que falamos aqui é quase o oposto do capitalismo. Afinal, o capitalismo pressupõe a livre concorrência e uma estrutura megacorp como a LNE é o oposto disso. Além da bilheteira, o grupo empresarial assume primeiramente a atividade de promotora, mas também controla salas de espetáculo (agora, a maior do nosso país), e também assina contratos 360 com artistas. Resumindo: a LNE tem fatias absolutamente gigantescas em praticamente todas as áreas da indústria musical, excetuando apenas a parte discográfica. A R&B é só mais uma promotora na longa lista de aquisições que a LNE tem encetado na última década, consolidando a sua posição. É provável que a pressão nos poucos intervenientes dos grandes concertos em Portugal se intensifique nos próximos anos, afastando ainda mais a música ao vivo de quem não tem bolsos largos. Não há concorrência quando há monopólios.
Que 21 milhões eram poucos euros para aquele negócio em 2012, nós já sabíamos, mas ainda não sabemos o que nos levam desta vez. O movimento perpétuo de experiências reservadas aos mais ricos intensifica-se, a privatização da cultura também e o custo vê-se em toda a parte, a começar pelos próprios artistas.