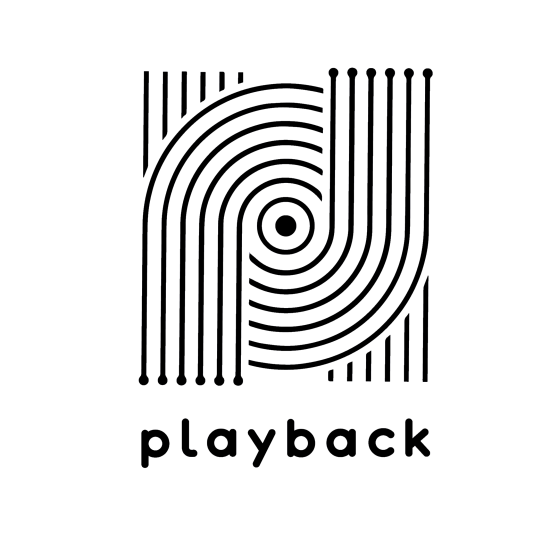Carte Blanche é uma nova rubrica da Playback em que convidamos artistas a escreverem sobre o que quiserem: coisas de que mais gostam (ou odeiam), livros/filmes/álbums com que andem obcecades, assuntos que achem relevantes trazer à discussão, ou até receitas que queiram partilhar com quem lê. Toda e qualquer edição é feita apenas por questões de clareza ou lapso ortográfico, já que o objectivo é que tenham, precisamente, carte blanche.
1. Brisa Maracujá
Quando era criança, eu detestava bebidas com gás. Perguntava sempre à minha mãe se o sumo tinha “picos”, para me precaver de beber algo que, no meu entender, apenas existia como piada de mau gosto ou como meio de me aleijar se não tivesse cuidado de o verificar. Ainda hoje, não sei beber bebidas com gás profissionalmente. Dou um soluço depois de dois goles, como uma reação psicossomática do Joãozinho que resta em mim, a dizer para eu não beber o líquido espinhoso que me pica o esófago, e para me ficar pelo ice tea de pêssego. A Brisa Maracujá há de ser, para além de uma das poucas bebidas com gás que gosto, a minha bebida preferida de sempre. Acho que isso se deve, em parte, pela sua escassez – só a posso beber na Madeira, porque cá no continente está sempre a mudar de sítio, vem com menos gás (uma queixa um pouco duvidosa, dado o contexto) ou aparece muito esporadicamente em algum café ou restaurante. Este último ponto partiria para a minha tese de que a Empresa de Cervejas da Madeira não gosta de fazer dinheiro e é essa a razão pela qual nunca expandiram decentemente para o continente, mas isso fica para outra ocasião.
O maracujá não é, de forma alguma, dos frutos mais proeminentes na Madeira, mas o madeirense criou uma ligação estreita e emotiva com o maracujá através da Brisa. Mais nenhuma marca (e bem tentaram nos Açores) conseguiu aproximar-se da pujança do sabor do líquido dourado, que envolve a boca com uma adstringência e intensidade tal, que se torna impossível beber uma Brisa apenas, quando estou na Madeira. Se uma bebida pudesse ter umami, esta tê-lo-ia de certeza absoluta – a sensação de satisfação aproxima-se da mesma no saboroso do umami. O sabor e concentração do maracujá é até visível pela garrafa jadeada e dá origem a um ritual de paciência e resiliência ao abri-la, isto porque a Brisa Maracujá deve ser a única bebida com gás que conheço que necessita de ser agitada antes de abrir. Numa garrafa em êxtase, há uma separação do líquido mais aquoso no topo e do concentrado do sumo, no fundo. Abrir uma garrafa de Brisa envolve a manobragem certa para misturar os ingredientes sem perturbar a delicada entropia do dióxido de carbono que nos mata a sede. A Brisa Maracujá requer algo de nós antes de a podermos devorar. O hubris e a arrogância leva ao repuxo do néctar pelo gargalo e ao desperdício da ambrósia.
Sinto que a minha relação com a Brisa Maracujá é bastante mimética à minha relação com a própria ilha da Madeira. Durante a maior parte da minha infância, não lhe ligava nenhuma e qualquer outra poderia vir tomar o seu lugar. Eu não sentiria a diferença, nem a falta. Ao começar a apreciar o seu gosto, o meu corpo não conseguia resistir aos impulsos de rejeitar o gás e de expulsar as farpas na garganta. Hoje não posso bebê-la sem o gás, e talvez ainda goste mais dela quando está bem gaseificada, e eu acabo por soluçar inevitavelmente. Mal a bebo cá em Lisboa, mas penso muito nela. Não o consigo evitar. Recomendo-a a toda a gente e acredito confiantemente que vão gostar também e compreender o meu fascínio. Há algo de muito especial nela, mas, enquanto uma se esgota no fundo da garrafa, a outra parece sempre ter algo mais a me oferecer. Ambas me picam inevitavelmente a garganta e ambas me matam redobradamente a sede.
Aos amigos e leitores continentais, recomendo avidamente experimentar uma Brisa Maracujá, caso já não o tenham feito. À Empresa de Cervejas da Madeira, recomendo, não menos avidamente, o meu contacto.
2. Paul B. Preciado
Grande parte do meu último verão foi passado com o nariz enterrado em livros, depois de vários meses enlameado entre a falta de tempo para ler, com produções e gravações, e o tempo que precisava para ler dedicado apenas à pesquisa para a minha tese de mestrado. Ao começar o Manifesto Contra-Sexual, fiquei imediatamente fixado no trabalho do Paul B. Preciado e desde então, declaro-me devoto fanático.
Explorar a queerness é também desencobrir as estruturas e práticas impostas culturalmente que não nos apercebemos que, não só interiorizámos, como também somos socializados a reforçar. Em grande parte (e talvez a mais importante), é aceitar a constante da mudança e da (des)construção, de que há camadas e conceitos mais pegajosos, mais resistentes ao questionamento que outros – de que é um processo e não um fim. O Preciado implacavelmente derruba estes pilares, na forma como aborda a suposta dissidência sexual e de género, e recontextualiza-as fora de um regime heterossexual normativo. É inevitável a perceção de que a patologização é a arma deste regime, caracterizando as pessoas que se desviam destas normas como doentes mentais, anormais, monstros ou mutantes, e isto é visto, por exemplo, através das práticas institucionalizadas de tratamento de crianças intersexuais ou das práticas da psiquiatria e psicanálise no que às pessoas trans concerne. Ler e ver Preciado é também sentir a revolução a chegar, o inexorável ruir dos sistemas opressivos que mantêm a medicina, a ciência e a psiquiatria numa situação de violência para com a comunidade trans, seja no seu Manifesto Contra-Sexual ou no seu discurso controverso de 2019 para 3500 psicanalistas em Paris, que não fica aquém da sensação de um rastilho de pólvora prestes a explodir. Esta é a pólvora anunciada, a pólvora decisiva e inevitável.
É verdadeiramente inspiradora a forma como escreve e como põe em prática na escrita a sua pesquisa extensíssima, mas acima de tudo, a experiência vivida e partilhada entre pessoas trans, quase sempre invisibilizada e desvalorizada, mesmo na região académica dos estudos de género. Preciado expõe as entranhas da academia e da ciência de dentro para fora, fala a sua linguagem, mas carrega o coração inflamado de todas as pessoas ativistas trans que vieram antes. Para além disso, estes livros vieram para mim numa altura muito necessária para completar a linha e o raciocínio político de Judith Butler, cujo Gender Trouble li antes de enveredar pela obra de Preciado.
De várias formas, seja neste livro, em An Apartment on Uranus ou em Orlando: A Minha Biografia Política, este foi um autor que metamorfoseou algo fundamental na minha perspetiva sobre a sexualidade, a construção de género e a forma como a ciência pode e está refém dos interesses de um regime cisheteronormativo e colonialista, que oprime, vulnerabiliza e desumaniza sistematicamente aqueles que nele não se querem colocar e subjugar. Apesar destes temas pesados e muitas vezes de cólera e frustração, reconheço ainda uma escrita que consegue, em momentos, ser voltada para o amor, a beleza e até o humor sardónico. Para quem não conhece o trabalho do Paul B. Preciado, recomendo começar por Can The Monster Speak?, que acho ser o seu trabalho mais conciso e equilibrado, mas não menos inflamatório e emocionante.

3. Guitar Hero
Por volta dos meus 7 ou 8 anos, experimentei pela primeira vez o Guitar Hero III numa festa de aniversário de um colega meu na primária e imediatamente estraguei a festa para todos, porque não deixei mais ninguém jogar na PS3 dele. A combinação do ritmo jogável e da ideia de que estava a participar no processo de existir Música (quando se falha uma nota ou não se a toca, a parte da guitarra é silenciosa) avassalou-me de imediato e pedi ao meu pai para me comprar o jogo quando voltei da festa. Isto veio a repetir-se com incrementos de equipamentos musicais que os meus pais tiveram a paciência e amabilidade de me oferecer enquanto eu era criança e que foram, verdade seja dita, formativos para quem hoje sou.
Passei imensas tardes com aquela Les Paul de plástico a tiracolo, a treinar horas e horas a “Raining Blood” em Expert, numa cacofonia insuportável do tique-taque da strum bar, e fui-me apoderando do sótão da minha casa com instrumentos de plástico, que depois vieram a incluir a bateria do Guitar Hero: World Tour e mais umas guitarras. Eu e o meu irmão (Pedro Joaquim Borges) não estaríamos hoje onde estamos se não fossem aquelas pistas com 5 botões e aquela seleção de setlists nos jogos. Ambos criámos um interesse em transcender os cinco botões coloridos e aprender a tocar instrumentos “a sério”. A verdade é que, apesar de, discutivelmente, a guitarra no Guitar Hero não ser a melhor forma de aprender guitarra “real”, a bateria, no entanto, é uma incrível catapulta para aprender os básicos dos grooves, estruturas e padrões. Aos 9 anos, nunca tendo tocado numa bateria real, quando me sentei numa, sabia tocar a “Enter Sandman” e a “Toxicity” de cor.
Tal como eu, tenho a certeza que muitos músicos e produtores tiveram o seu início com o Guitar Hero ou o Rock Band – ainda há umas semanas vi uma story do Finneas com uma foto antiga dele com o box set de banda do Guitar Hero: World Tour e reconheci na cara dele a mesma expressão que tive quando vi aquela mesma caixa (caixa aquela que, para ser justo, ainda me dá um pico de dopamina ao ver).
Eu vim a competir a nível nacional no último torneio de Guitar Hero. Concorri na regional da Madeira e fiquei em primeiro, uma visão hilariante e espantosa por eu ter à volta de 10 anos e o resto dos concorrentes ter não só o dobro da minha idade como o dobro da minha altura. Cheguei à final do torneio na Fnac do Colombo e fiquei em sétimo lugar. Nunca mais houve nenhum torneio oficial de Guitar Hero, por isso, em teoria e no papel, eu sou o sétimo melhor jogador de Guitar Hero nacional. Guardem os aplausos para depois, por favor.
Nos últimos meses, e depois de facilmente mais de 10 anos sem jogar, voltei a pegar no Guitar Hero e está a dar-me um gozo enorme voltar às setlists que sei de uma ponta à outra, completamente queimadas no meu cérebro pré-pubescente. Eu e a minha parceira comprámos uma guitarra cá em Lisboa e é ainda mais satisfatório vê-la a aprender a jogar pela primeira vez. Hoje jogo no computador, que é muito melhor, mais bonito e mais fácil. Na verdade, eu estou a praticar ainda mais hoje do que antes, porque, com aquela tenra idade, parece que tudo o que se aprende acontece num instante e a curva de aprendizagem, no início, atravessa-se muito mais rapidamente. Acho que posso dizer com confiança que estou jogar ainda melhor do que naquela altura, mas ainda não consigo tocar a “Through The Fire and The Flames”.
4. A Metamorfose dos Pássaros
É raro apercebermo-nos de que uma obra é das nossas favoritas de sempre enquanto ainda nem a acabámos de ver. A Catarina Vasconcelos parece dominar a linguagem visual e a poesia como pouquíssimas pessoas conseguem, e estabelecer uma relação simbiótica entre estas duas como a que faz em A Metamorfose dos Pássaros é algo que precisa de ser celebrado com perduração. Este filme já tem três anos enquanto escrevo isto, mas só o vi pela primeira vez há um ano e, desde então, deixou em mim uma marca indelével de inspiração. De modo simples, não consigo apontar nenhum defeito em algum momento do filme, e todos os instantes parecem ter sido meticulosamente montados e pensados, desde o som, à imagem, ao texto que os acompanha. Nunca chorei tanto com um filme como quando o vi pela primeira vez e, quando acabou, fiquei apenas especado a ver os créditos rolar, incrédulo com o que tinha acabado de ver e feliz por ter acontecido. Espantou-me pela sua forma e gesto longos, de passo lento e ponderado, pela imersão na fotografia ora deslumbrante ora desolada e pela nuance da interpretação vulnerável do texto. É-me inconcebível o facto de esta ser a primeira longa metragem da realizadora – parece-me um trabalho que exigiria muitas tentativas falhadas, de forma a atingir o alvo com a certeza e a elegância com que este filme se expõe. A Catarina Vasconcelos fá-lo parecer sem esforço, em todo o momento com uma sensibilidade inacreditável e invejável. Sei que há mais uma longa metragem dela no horizonte – mal posso esperar que me arruine novamente.
5. Anti-Gearheadismo, Behringer und Das Kapital
Um ponto importante sobre o qual assenta toda a forma como vejo a produção musical é o desprendimento do equipamento e, por isso, acho a democratização da produção musical e uma maior acessibilidade a estes meios as maiores virtudes dos nossos tempos. Não sou muito fã de conversas sobre gear e sempre me pareceu de má fé dizer a um colega que precisa de um certo material para chegar ao som que quer (exceto acessórios e utilitários). Eu tenho no meu computador, no meu teclado MIDI, na minha interface da Behringer de 100 paus, no meu microfone e nos meus headphones todos os sonhos do mundo. Talvez nem precisasse de tanto. Tenho em mim todos os instrumentos do mundo. Sou completa, impiedosa e ofensivamente defensor do digital em última instância. Produtores do mundo, o DAW é o mais puro e robusto instrumento. O sintetizador de software é o mais belo e sofisticado ressoador. O computador é o mais completo e indivisível utensílio nas mãos de quem produz. O analógico vem depois. Em breve, poderemos tocar, com uma fidedignidade indiscernível do “original”, qualquer sintetizador em qualquer controlador MIDI que quisermos. Poderemos colorir qualquer microfone por qualquer pré-amplificador e qualquer compressor. As simulações ficarão cada vez mais verossímeis e poderemos chamar à gear física aquilo que se tornará: um capricho e um objeto de coleção. De físico, teremos apenas os controladores. Mesmo hoje, em simulações de Juno, DX7, LA-2A, Helix, etc, não sinto diferenças esmagadoras, e as poucas e raras que existem facilmente se resolvem com um high shelf ou um pouco de compressão (recomendação aos leitores: deitem fora e queimem os vossos synths vintage).
No entanto, partimos de básicos: uma interface, um computador, headphones. Claro que esta configuração pode ser diferente para diferentes pessoas e diferentes gostos, mas admitamos este setup bastante ao estilo de starter pack. É muito difícil de explicar o quanto evoluiu a qualidade de interfaces de áudio nos últimos 20 anos (principalmente para mim, que tenho 23), sem parecer que caímos na hipérbole. Seria absolutamente impensável e absurdo imaginar que seria possível gravar um disco com algo como a Behringer UMC404HD que eu tenho e uso desde 2016, por 100 e tal euros. Para mais, seria quase inefável a ideia de um disco gravado todo em casa, capaz de competir sonicamente com o resto do mundo musical, neste âmbito de preços de equipamentos. Dito isto, não vou defender a Behringer neste espaço, nem quero.
A mesma empresa que me vendeu a interface com uma relação preço-qualidade inacreditável com a qual produzi todos os discos em que trabalhei é a mesma subsidiária de uma mega-empresa detentora de uma literal cidade para os operários das suas fábricas e cujo modelo de negócios consiste recentemente em comprar empresas concorrentes e vender clones de produtos dessas empresas, acompanhado-se de um discurso de vitimização, maledicência e descredibilização de terceiros que deixaria Trump ou Bolsonaro orgulhosos. Enquanto que, por um lado, aparecem no mercado versões mais acessíveis de equipamentos capazes de sonoridades ao nível dos que pretendem copiar, isto é feito através de uma enorme influência e poder de capital, que apenas cresce exponencialmente e engole tudo no seu caminho. Eu próprio tenho um Behringer TD-3 e não consigo distingui-lo de um Roland TB-303, que pretende clonar. Adoro o seu som. Para além do mais, os knobs e a interface são maiores por isso é muito mais amigável de manusear. Não sei como me sentir em relação a ele. Uma maior acessibilidade neste sentido significa também alimentar algo que pode vir a causar um próprio declínio de qualidade e inovação em novos equipamentos musicais. O objetivo aqui não é a democratização da música, é a capitalização sobre a narrativa da democratização da música. Afinal de contas, os preços do equipamento musical na sua generalidade já são bastante inflacionados, classistas e impeditivos de se começar a produzir, mas é, no mínimo, curioso, e, no máximo, ultrajante, ver o aparecimento equipamentos mais acessíveis como parte de um maior processo monopolista e de dominância do capital. Não sinto ter respostas concretas em relação a este assunto, mas gostava de o discutir ainda mais. Se alguém quiser encontrar-me e falar, vou estar com os meus VSTs e os meus sample packs, que fico muito mais satisfeito.

Podes escutar É Só Harakiri, Baby nas várias plataformas de streaming.